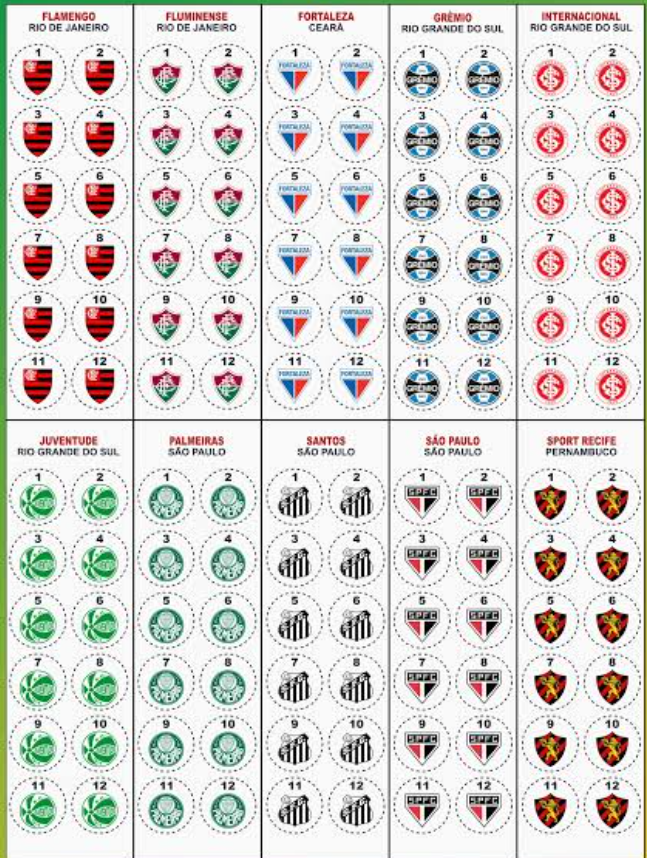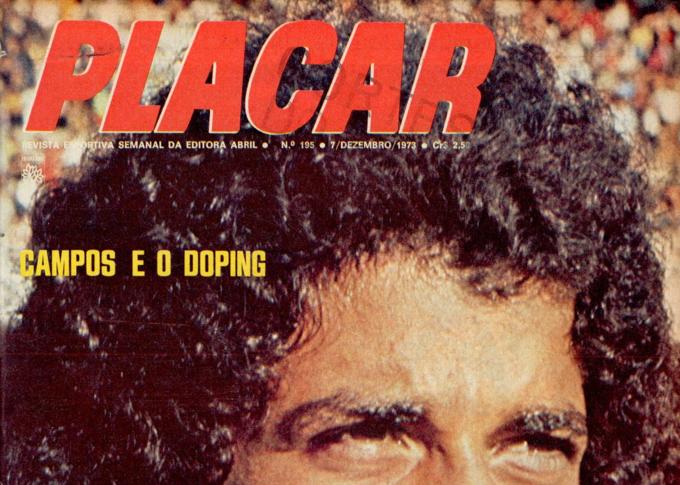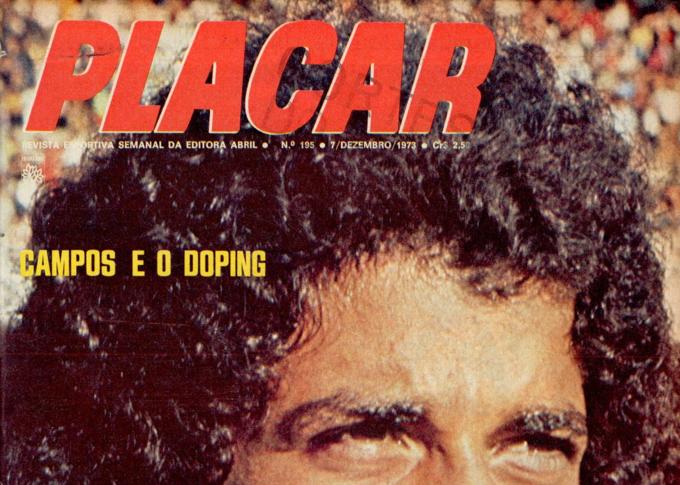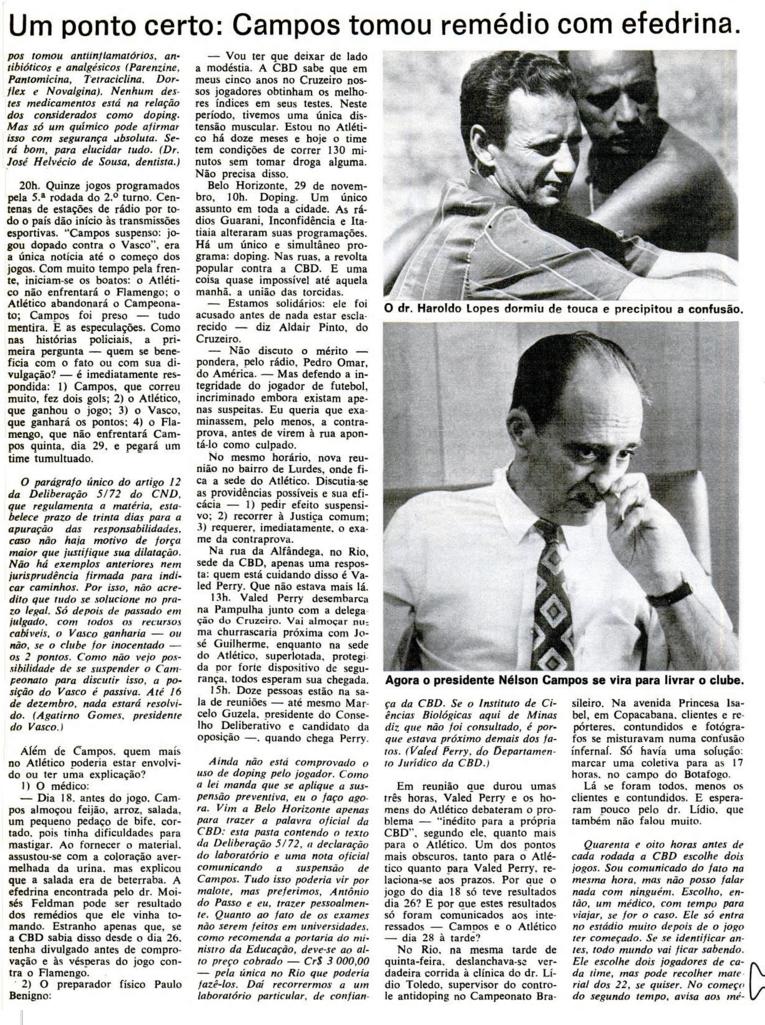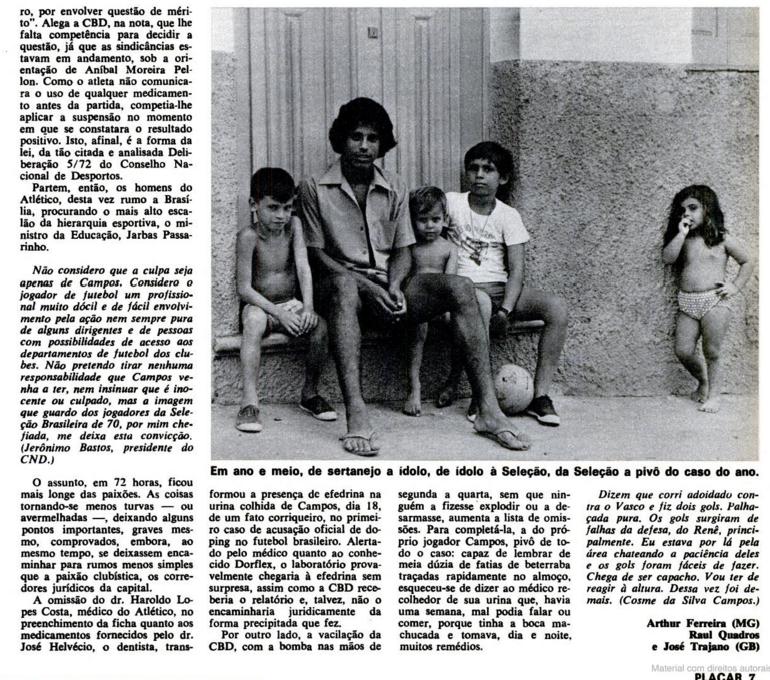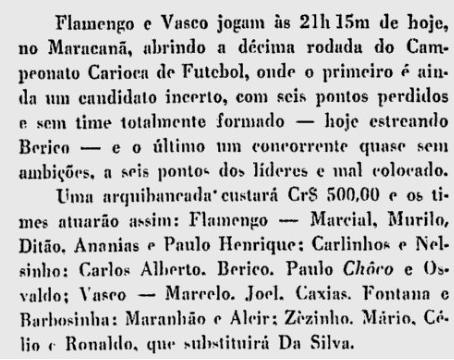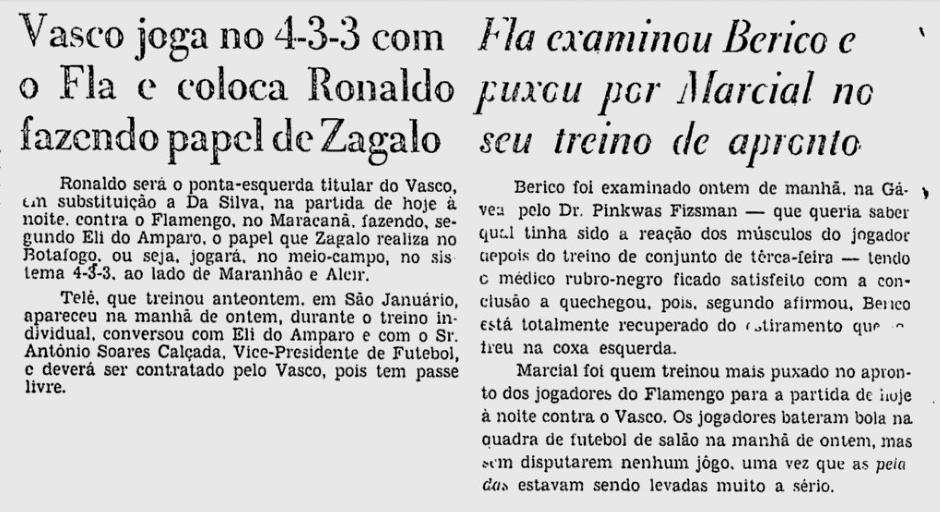Daqui a alguns dias daremos início a mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Em 2023, comemora-se 20 anos do sistema de pontos corridos no Brasil. Mas será que temos algo a comemorar?
Em homenagem ao 1° de abril, vamos relembrar algumas das maiores mentiras do futebol brasileiro, que são diariamente fomentadas pela “clarividente” imprensa esportiva.
1- Campeonato mais equilibrado e disputado do mundo com, pelo menos 10 equipes favoritas ao título. Pois bem, vejamos:
Quem acompanha os bastidores do futebol brasileiro, sabe bem que após a destituição do Clube dos 13, a divisão de cotas se transformou. Um projeto de hierarquização artificial denominado “eapanholização” foi elaborado, e hoje funciona a todo o vapor.
Limitamos a disputa a apenas dois ou três clubes, enquanto o restante luta pelas migalhas que caem da mesa, se limitando a brigar por vagas ou a permanência, ou quem sabe, ter uma sorte nas Copas. Perdemos em competitividade, perdemos em abrangência.
Ao contrário do ecossistema europeu, onde se tem quatro clubes grandes por país, e no máximo cinco clubes de médio porte, no Brasil acontece o oposto. Tínhamos os ditos 12 grandes, e cerca de ao menos 20 clubes médios. Com a diminuição do número de participantes, mais a disparidade nas receitas, os clubes de médio porte precisaram conviver com acessos e descensos constantes, o que dificulta qualquer tipo de planejamento.
2- O sucesso é fruto de projeto de grande gestão:
O discurso de gestão inteligente é repetido exaustivamente na imprensa esportiva para justificar o duopólio do Campeonato Brasileiro. É óbvio que a administração dos recursos importa, mas o dinheiro importa muito mais.
Se o problema fosse tão somente a gestão, Ceará, Fortaleza, América Mineiro seriam potências. São bem organizados e possuem eficiência administrativa em vários setores, mas têm receitas de direitos de transmissão muito inferiores àquelas dos adversários. Avaliar uma gestão nessas condições exige a elaboração de critérios um pouco mais sofisticados. Esses clubes não lutarão por títulos porque a disparidade financeira basicamente inviabiliza a competitividade. Duas ou três décadas de contas organizadas serão incapazes de alterar isso substancialmente.
Do outro lado, na ponta da pirâmide, temos o Flamengo e o Corinthians, que sozinhos concentram 24% dos direitos de transmissão. Um campeonato que já começa com times ganhando 20 vezes mais que outros, já começa praticamente decidido.
O futebol brasileiro precisa se reinventar. Hoje, somos a Série D do futebol mundial. Perdemos para a Segunda Divisão Alemã em média de público… perdemos, aliás, em média de público pra um país onde football é outra coisa. O mundo hoje se interessa muito mais pela Segunda Divisão Inglesa ou Espanhola do que pelo Brasileirão. E isso não se deve ao poder econômico, como muitos insistem em dizer. Sul-americana? Libertadores? Isso ainda faz sentido na nossa aldeia.
Por exemplo, nos últimos 10 mundiais de clubes, o futebol brasileiro ficou de fora de cinco finais. Se estendermos pra nível Sul-americano, aumenta para sete. Isso não é “papo de colonizado”. É simplesmente constatar o óbvio. África, Ásia, Oriente Médio, América Central, escolas que em outrora eram marginais, evoluíram. O Japão foi pioneiro, le mais recentemente veio a explosão dos mercados chinês e árabe, muitas vezes levando nossas revelações direto pra lá.
Falando de seleção, o Brasil chega a próxima Copa com 24 anos de jejum. Dos últimos oito finalistas de Copa do Mundo, sete europeus e apenas a Argentina em 2014 e 2022. Há 15 anos, o Brasil não tem um jogador eleito o melhor do mundo.
Até o início dos anos 2000, os times brasileiros eram extremamente competitivos. Muitas vezes superavam os europeus na raça. Mas, hoje, é hora da famosa autocrítica. Estamos habituados a perder. Estamos nos contentando com o simples fato de jogar de igual para igual.
Quem se interessa por um campeonato onde temos mais tempo de bola parada que bola em jogo? Quem se interessa em ir pro estádio ver jogador simulando contusão, saindo de maca e “milagrosamente” se levantando pra voltar ao gramado? Quem vai continuar se interessando por um campeonato onde dois ou três times detêm mais da metade das cotas de TV de todo o campeonato? Quantos outros 7 a 1 em casa ou Mazembes, Casablancas, Tigres e Al-Ahlys teremos que passar pra aprender?
Pronto… agora podemos voltar à nossa aldeia.