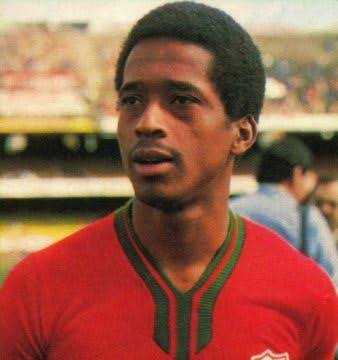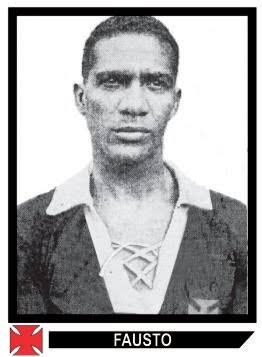Colaboração de Leonardo Baptista
batistaleonardo668@gmail.com
Então, aqui estamos em meio à pandemia e muito se discute a respeito da continuação dos campeonatos ao redor de todo o mundo, com a chance real de haver um cancelamento de toda a temporada e logo se começam as especulações sobre as premiações individuais.
Em especial a famosa Bola de Ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo eleito pela FIFA, que erroneamente são colocados às vezes como um único prêmio quando não são: apesar de em teoria premiarem a mesma coisa, não são raras as vezes em que os prêmios são dados a pessoas diferentes na mesma temporada.
Logo o brasileiro, como gosta de comentar sobre nosso esporte favorito, já começa a especular: este ano será do Neymar? Este ano Neymar ganha?
Então pergunto: para quê?
Existe uma necessidade de conquistar um troféu que até 1995 era concedido apenas a europeus jogando na Europa, ou seja, mesmo que um europeu arrebentasse pelos campos mundo afora, não estaria elegível para o prêmio por não atuar no seu continente.
Esclarecendo: o prêmio em sua característica fundadora é europeu, para europeus e para a Europa; porém já ao ano de 1995 era fácil entender que o melhor futebol do mundo, apesar de ser praticado lá não era praticado por europeus, e a premiação a contragosto de muitos passou a ser mais ampla para jogadores ao redor de todo o mundo.
Porém, vamos aos fatos: todos os grandes times europeus nas maiores Ligas do mundo têm na sua história jogadores sul-americanos; muitos só são o que são por causa de jogadores que saíram do Novo Mundo e foram palestrar em campo por lá, seja a magia de Ronaldinho Gaúcho, que refez o Barcelona, ou seu maior jogador Lionel Messi, que é argentino. É certo que este foi criado nas bases da equipe europeia, mas ainda assim, é argentino. E quem conhece de futebol vê que essa característica não se desgruda dele em campo tanto quanto a bola em seu mágico pé esquerdo.
O mesmo Barcelona ganhou sua última Champions League tendo como principais jogadores um uruguaio, um argentino e um brasileiro, sua segunda Champions League veio com um gol na final feita por, adivinhem, um brasileiro.
O Real Madrid, que se gaba por ser o maior clube do mundo, tem seu domínio iniciado com ninguém menos que Alfredo Di’Stefano, argentino.
E para não dizer que esta opinião se baseia apenas em passado e que é puro saudosismo, olhem para a década que se encerra, e apontem um time sequer, campeão no dito “melhor futebol do mundo” sem ao menos um sul-americano.
São poucos.
O que quero dizer com esses fatos é que, se hoje o futebol europeu é o maior do mundo, é graças aos sul-americanos que por lá passaram e ainda passam, seja a garra argentina, a força uruguaia ou a magia brasileira. O que acontece é um reflexo de coisas que vão além do futebol e passam longe das quatro linhas, apesar de nelas refletir diretamente, o bom e velho eurocentrismo, um continente mais rico. Pega ao redor do mundo coisas que não têm e dizem ser deles, ou você nunca ouviu um “fulano joga como europeu”, não?
Jogamos como sul-americanos, africanos e afins, afinal o dito melhor futebol do mundo é, na verdade, apenas o mais rico. Claro, com todo o mérito, eles têm suas estruturas sociais muito mais avançadas e menos desiguais que o nosso sofrido continente, mas o motivo disso não é pauta por aqui (talvez pra outro papo).
Existe uma obsessão pela Bola de Ouro porque ela teoricamente nos coloca no mesmo patamar de europeus, mas, gente, somos melhores. São fatos e dados que podem ser vistos e revistos a qualquer momento: o que sofremos por querer nos igualar ou ser bons aos olhos dos europeus não passa de um “colonialismo futebolesco”.
Ah, mas Lionel Messi não é europeu e é o maior vencedor, sim. Mas porque foi criado ali, e apesar de manter suas características argentinas como já dito neste texto, mas afinal, se ele jogasse a mesma barbaridade sem ter sido formado lá dentro teria as seis Bolas de Ouro? Talvez. Pelo nível que o craque apresenta, mas com toda a certeza não seria tão unânime quanto foi por não inspirar (nessa hipótese) tanta empatia dos europeus, (qualquer semelhança disso com acontecimentos na esfera social fora do futebol não é mera coincidência).
Enfim, a Bola de Ouro é um reconhecimento importante mas não deveria ser pilar principal para sustentar nosso orgulho pelo futebol praticado aqui e lá fora por nossos compatriotas. Somos campeões de tudo, sendo protagonistas em todo lugar e isso sim vale de muita coisa.
A Bola de Ouro é um prêmio individual em um jogo de onze contra onze e, no onze contra onze, somos penta.